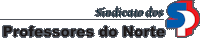Como escrever sobre um colega decapitado?
20 de outubro de 2020
Rui Tavares em Público (19 de outubro de 2020)
Para haver civilização, há que derrotar os fanáticos todos uma e outra vez. Essa é a missão que Samuel Paty nos entregou. Saibamos ser dignos dela
Esta crónica poderia chamar-se #jesuisSamuelPaty. Como Samuel Paty, sou historiador, e já dei aulas sobre a história da censura e liberdade de expressão nas quais não poderia deixar de incluir as caricaturas de Maomé do jornal dinamarquês Jyllands-Posten ou do francês Charlie Hebdo. Como Samuel Paty, expliquei aos alunos que o papel da história não é fingir que as controvérsias não existiram, nem deixá-los na ignorância sobre as razões delas. Samuel Paty, professor de História e Geografia num colégio na região Norte da Grande Paris, disse até aos seus alunos que poderiam sair caso considerassem plausível que as imagens das caricaturas de Maomé que ele iria mostrar os pudessem chocar. Alguns alunos saíram, a maioria decidiu ficar. Uma aluna — que não é ainda claro se decidiu ficar ou sair — comunicou aos seus pais o sucedido, e o seu pai decidiu lançar um escândalo na sua página de Facebook, alegando falsamente que o professor teria mostrado a fotografia de um homem nu e dito que se tratava do profeta Maomé (na verdade, não foram mostradas fotos, mas apenas caricaturas).
As coisas tomam uma dimensão inesperada. Há queixas junto da direção da escola e da polícia, reuniões entre a direção da escola e o professor, entre a direção da escola e os pais, e finalmente uma ida do professor à esquadra de polícia para explicar o que se tinha passado. Quanto ao pai da aluna, em vez de comparecer na polícia em resposta a uma convocatória motivada pela queixa que ele próprio tinha feito, decide antes fazer um novo vídeo para o YouTube, no qual expõe a sua filha de 13 anos de novo a dizer que lhe tinham mostrado um homem nu e dito que era Maomé. Para lá das mentiras e exageros, o pai da aluna divulga no seu vídeo o nome da escola e do professor.
E assim chegamos ao ato final: um homem de 18 anos que nada tinha a ver com o caso, que não era aluno nem pai de aluno daquela escola, persegue Samuel Paty e assassina-o, decapitando-o. Por isso, esta crónica não se poderia chamar #jesuisSamuelPaty a não ser pelas razões do choque e a da solidariedade. Porque a verdade é que Samuel Paty, professor de história de 47 anos, praticamente a minha idade, foi decapitado — e eu estou vivo a escrever sobre ele.
Um caso como estes pode deixar-nos sem saber como reagir. Para lá do choque e da solidariedade, o que fazer?
Em primeiro lugar, um pouco de pedagogia sobre a pedagogia. É preciso que governos, políticos, pais, líderes religiosos — e jornais também; todos nós, na verdade — se juntem para explicar que a escola não é um armazém onde os pais depositam as crianças para que lhes seja dito apenas e só o que aos pais aprouver. Esse é, se assim o quiserem, o papel da casa e da família; na escola, prepara-se gente para a diversidade e a exigência da vida em sociedade, e dá-se-lhes acesso, nuns poucos anos privilegiados das suas vidas, a uma parte daquele acervo de conhecimentos e experiências que a humanidade levou milénios a construir. Nem tudo tem de agradar; a escola é um ponto de encontro, no qual as opiniões divergentes têm lugar, incluindo as de pais e professores. Nada mais comum, e em certa medida nada de mais saudável. Mas se não tivesse havido a arrogante irresponsabilidade daquele pai, que optou por se escandalizar e escandalizar os outros espalhando mentiras e exageros pelas redes sociais, não teria provavelmente havido um assassino fanatizado para matar Samuel Paty. Há aqui uma responsabilidade para pais, professores e também para as redes sociais — e para políticos: as leis provavelmente precisam de ser alteradas, e espalhar notícias falsas que ponham em risco terceiros deve ser crime, agravado em casos como estes de profissionais que não imaginariam estar em perigo de vida por simplesmente fazerem o que à sua profissão compete.
Vale a pena fazer também um pouco de história sobre a história. Os historiadores nunca foram, nem nunca serão, seres anódinos e apartidários. Não se consegue ser historiador — muito menos um bom historiador — sem se ter ideias próprias. Os historiadores têm regras da arte e uma deontologia que lhes deve ser comum, mas não se pode exigir aos historiadores que não digam nada que não possa chocar. E desenganem-se os que pensam que as ameaças vêm só de fanáticos religiosos, muçulmanos ou não; a classicista britânica Mary Beard recebeu ameaças de morte de racistas por ter mencionado o facto bem sabido de que havia negros na província britânica do Império Romano; historiadores um pouco por todo o mundo sofrem ameaças de “nacionalistas” que os acusam de conspurcar a história pátria por não ocultarem os pedaços maus dela; outros sofrem pressões por não se revelarem suficientemente chocados com os preconceitos do passado, e por aí adiante. E nada disto, vindo de onde quer que seja, é aceitável.
Defender o direito da história a não se calar perante os fanáticos é defender a própria civilização. O fanatismo é o inimigo da civilização. Para haver civilização, há que derrotar os fanáticos todos uma e outra vez. Essa é a missão que o nosso colega decapitado, sem poder imaginar o que lhe iria acontecer, nos entregou. Saibamos ser dignos dela.